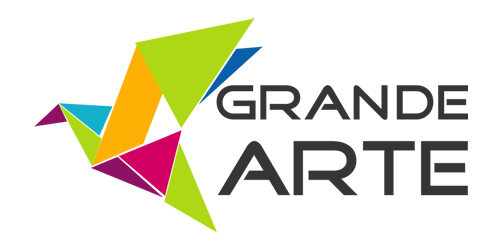Por R.B. CÔVO
“Chaplin” é um filme biográfico, de 1992, que conta a história de um dos maiores comediantes de sempre – Charles Chaplin -, tendo sido dirigido por Richard Attenborough e estrelado por atores como Robert Downey Jr. (Charles Chaplin), Moira Kelly, Dan Aykroyd, Penelope Ann Miller, entre outros.
Adaptado por William Boyd, William Goldman e Bryan Forbes dos livros “Chaplin: His life and Art”, de David Robinson, e “My autobiography”, de Chaplin, conta com música original composta por John Barry, inserindo-nos na vida do famoso gênio do cinema, desde os problemas na infância (ida para o reformatório), aos casos amorosos e aos problemas de natureza política.
O interessante no filme biográfico de Chaplin, e ao mesmo tempo passível de reflexão profunda, é percebermos que aquele que foi capaz de suscitar o riso de massas não foi um indivíduo sobremaneira feliz. A infância foi pobre, revestida das maiores carências, inclusive afetivas. O pai fora ausente, a mãe acometida de insanidade mental e, em meio a tudo isso, Chaplin seria levado para um reformatório, onde fica durante um ano da sua vida. Mais tarde, os inúmeros casos amorosos que vive não se pode dizer que o satisfaçam plenamente.
Chaplin é um indivíduo de certa forma triste, acusado de não patriotismo, de não ser um inglês verdadeiramente nacionalista, pois quando da primeira guerra não serve no exército do seu país. Pelo contrário, seus filmes críticos, de um humor ácido e mordaz sobre a guerra, alimentam ainda mais o ideário popular: Chaplin era antinacionalista e, o pior, comunista.
Um comunista vivendo num país extremamente capitalista como os Estados Unidos da América. Outrossim, um judeu (outra acusação de que por diversas vezes fora alvo e que o mesmo nunca fez questão de negar – sabe-se que seu irmão era, de fato, judeu, mas quanto a Chaplin não há registros que o possam comprovar, uma vez que eram filhos de pai diferente).
Quanto a ser comunista, respondia com presteza que não o era; que era, sim, humanista. E não se furtava a negar um cumprimento àqueles que fossem nazistas. Sua convicção ideológica e política levou à realização de filmes como “Tempos Modernos” (marcadamente anti-capitalista) e “O Grande ditador”, de 1938, em que satiriza (e ridiculariza) Hitler e o regime que o apoiava.
Ao assistir “Chaplin”, lembrei de um poema de José Régio que começa assim: “’Vem por aqui’/ dizem-me alguns com olhos doces, estendendo-me os braços e seguros de que seria bom que eu os ouvisse/ quando me dizem ‘vem por aqui’, eu olho-os com olhos lassos, com ironias e cansaços, e cruzo os braços, e nunca vou por ali”.
Isso porque Chaplin, definitivamente, não foi por “ali”. Chaplin não se converteu a essa ideologia capitalista; o que teria sido bem mais fácil para ele, pois ter-lhe-ia poupado a expulsão dos Estados Unidos. Chaplin olhou essa terra de liberdade com olhos lassos, com ironias e cansaços, sem que contudo (e é aí que Chaplin se afasta do poema de Régio) cruzasse os braços.
Chaplin não cruzou os braços; usou a tela para denunciar, para por meio de um humor prático, simples, repleto de chutes, corridas, bofetadas (o chamado humor pastelão), ridicularizar o sistema social, os heróis, o nosso cotidiano. Chaplin foi um gênio do cinema que não se pôde alhear, no entanto, da sua condição de humano. Sofreu por amor, sofreu pela mãe, sofreu pelas acusações que lhe faziam (falta de amor à sua pátria, a Inglaterra, comunista, judeu), sofreu pela extradição, pela perseguição, enfim, à sua ideologia.
Chaplin foi um mestre da improvisação apaixonado pelo cinematógrafo cuja maior vulnerabilidade era o sexo. Tinha uma predisposição natural, e disso o acusavam, para envolver-se com moças muito novas, em alguns casos adolescentes ainda, e nutria um determinado receio do cinema falado.
O “vagabundo”, seu personagem icônico, mudo, tão expressivo corporalmente, afirmava, perderia todo o encanto e magia quando, e se por acaso, dissesse as primeiras palavras. Chaplin cria na maior universalidade do cinema mudo, da expressão gestual. Pelos gestos poderia fazer-se entender em qualquer lugar do mundo.
O filme tem, a meu ver, três cenas emblemáticas: uma primeira, no início da película, quando Chaplin diante do espelho tira o bigode (o que de forma simbólica nos mostra que por trás do artista existe um homem comum) uma segunda, quando sai do trem em Inglaterra depois de saber que a moça que amava morrera e perante os fãs se vê obrigado a sorrir, a mostrar boa disposição, e a terceira, quando nas últimas cenas se percebe a tentativa de Chaplin, num de seus filmes, de salvar uma criança de ser levada de seus pais.
Chaplin foi um existencialista, um artista que se achava incumbido de denunciar o que estava errado (quando da quebra da bolsa em 1929 afirmou “eu não disse nada, que vergonha!, que vergonha!”, e realizou pouco depois “Tempos Modernos”), que morreu com a amargura de ter feito pouco, em seu entender, afinal nas últimas cenas, exilado na Suíça, afirma que alegrou apenas algumas pessoas, acrescentando “nada mau”. Mas mesmo esse “nada mau” é uma expressão doída. Chaplin queria mais.
Outros pontos a destacar no filme, além dessa questão do nacionalismo, são o tipo de humor (um humor bem diferente do humor do nosso tempo, mais espontâneo, mais corporal, mais imediato, mais universal), o surgimento daquilo que parece ser as primeiras preocupações com o alcance do cinema, nomeadamente quando se vive essa fase de transição e essa tensão entre o cinema mudo e o cinema falado, e o poder e alcance da ideologia.
Afinal, a maior obstrução que Chaplin encontra na sua vida é a acusação de ser comunista. Mas Chaplin, fiel a si mesmo, não se coibiu de ser e de criticar, de ironizar e de ridicularizar. Chaplin não foi “por ali”, pelo mais conveniente, não se forçou a calar. Liberal, ousou com os gestos dizer o que muitos não disseram por palavras.